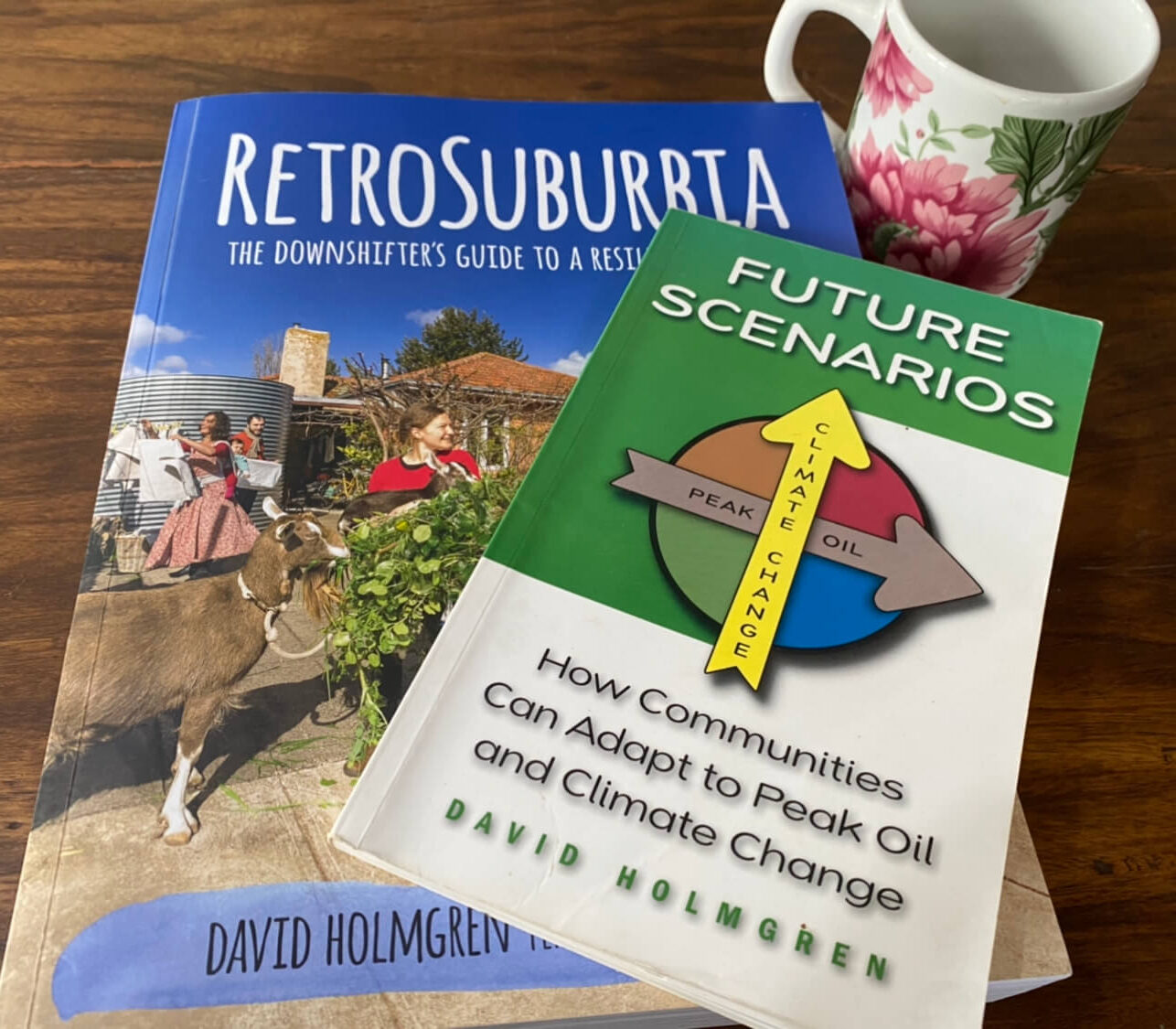O número de pessoas que argumenta em prol de uma dieta à base de plantas ou mesmo do veganismo como direção única para o movimento ambiental tem crescido muito nos últimos anos. O argumento geral é que “precisamos comer menos carne para evitar a degradação ambiental”. Mas quem precisa diminuir o consumo de carne? De que tipo de carne estamos falando? Quem tem o direito de decidir ou influenciar a dieta de uma pluralidade enorme de pessoas vivendo em ecossistemas tão diversos?
A tendência ao veganismo ou a dieta à base de plantas nasceu nos grandes centros urbanos entre grupos privilegiados da população e tem encontrado campo fértil entre as pessoas que buscam um viver ‘sustentável’ e apoiam o desenvolvimento de políticas públicas para ‘reformar’ os sistemas de produção alimentar. Entretanto, essa abordagem é tão simplista e generalista que caracteriza uma miopia analítica, um desserviço para a ecologia, para a nutrição e para o ativismo ambiental.
O problema é que não é possível reformar o sistema industrial de produção alimentar, assim como não é possível reformar o capitalismo. O sistema alimentar industrial faz exatamente o que foi projetado para fazer; ele concentra renda, poder e território nas mãos das corporações – empresas de capital aberto criadas pelo capitalismo para maximizar o lucro de um dia para o outro a qualquer preço. Não é o que se come que degrada as dimensões social e ecológica, o que caracteriza o problema é o como, onde, porquê e por quem é produzido, também o como, para quem, para onde e por quem é escoado.
O que precisamos é de um novo modelo de gestão econômica que entenda e se comporte de acordo com a realidade física e biológica do planeta – a de que atividade econômica, de fato, está contida na biocapacidade dos lugares onde se realiza. E em termos de sistemas alimentares, o que precisamos é desenvolver sistemas descentralizados, distribuídos, capazes de lidar com as complexidades climáticas, geográficas, hídricas, biológicas, socioeconômicas e culturais dos lugares onde vivemos e produzimos nosso alimento.
E nós temos tanto um modelo de gestão como um sistema alimentar capazes de lidar com essas complexidades.
A Economia Ecológica (EE) é um campo de estudo transdisciplinar que reconhece a interdependência da atividade econômica e dos ecossistemas naturais ao longo do espaço e do tempo. A EE se distingue da economia ambiental que se baseia na teoria da economia clássica, incorpora a atividade econômica na natureza e reconhece que os limites do crescimento material estão diretamente relacionados com a biocapacidade dos ecossistemas onde esta atividade se viabiliza.
O conceito de Soberania Alimentar foi definido pela Via Campesina, uma organização de pequenas e médias agricultoras familiares, indígenas e trabalhadoras rurais que visa a transição de uma agricultura industrial baseada em insumos químicos que degrada as dimensões social, ambiental e econômica para uma baseada nos princípios ecológicos. A soberania alimentar é um conceito inclusivo, sensível e plural que constrói o direito de todos os povos a alimentos nutritivos, limpos e culturalmente apropriados, assim como do acesso aos meios de produção para manter sua dieta. A soberania alimentar também implica o direito a decidir como comercializar se for o caso e se essa comercialização deve atender primeiramente a biorregião, o país ou uma agenda de exportação.
Os grandes centros urbanos são ecossistemas artificiais, mantidos pelos combustíveis fósseis e, portanto, são altamente poluentes, como José Lutzenberger já alertava na década de 80. A busca por uma vida sustentável nesses centros, como hoje alerta Ailton Krenak, é uma busca egoísta. Visa mais negociar e aplacar culpas ambientais que resolver problemas sistêmicos. Não faz o menor sentido criarmos uma direção, uma tendência vegana ou à base de plantas para todos, nivelando assim o viver e as necessidades das famílias campesinas, da agricultura familiar agroecológica, dos povos tradicionais, de ribeirinhos e indígenas com o viver altamente poluente dos urbanóides.
Essa tendência não faz sentido nutricional porque toda a produção industrial desperdiça em torno de 30% do que produz e entrega os outros 70% envenenados para a população que pode pagar. Durante a pandemia tivemos quase 20 milhões de pessoas passando fome e quase a metade das famílias brasileiras com alguma dificuldade para se alimentar. Todo alimento produzido pelo modelo industrial degrada as dimensões social e ecológica e isso inclui a produção de grãos, frutas e verduras, então, por quê criar uma tendência que limita só o consumo da carne ao invés de lutar pela soberania alimentar? Por quê criar uma tendência que diminui o consumo de carne se esse é o alimento com maior densidade nutricional?
A CIÊNCIA produzida no campo da agroecologia já comprovou que as pequenas propriedades com sistemas integrados de produção são enormemente mais produtivas que a larga escala. São fazendas com menos de 2 hectares que produzem mais de 70% da comida do mundo. Isso usando menos terras aráveis, menos insumos químicos e menos água, mas para isso precisam integrar animais. Essa integração permite que uma produtora rural familiar use 20 vezes menos combustíveis fósseis que a produção industrial, enquanto produz grãos, tubérculos, frutas, castanhas… ao mesmo tempo que fornece proteína animal suficiente para alimentar 34 pessoas por ano por hectare (Altieri, 2015; ver também Pablo Tittonell, Stephen Gliessman e Ana Primavesi). Ignorar esses dados e a força que a pequena escala ligada em rede tem para rearranjar a produção e distribuição bioregional em um contexto de escassez energética é criminoso.
Essa tendência não faz sentido ecológico por várias razões.
Primeiro, quando grande parte da população mundial ainda vive em déficit nutricional, o foco deve ser em produzir mais carne agroecológica e não em combater o consumo da carne industrial. Se a carne consumida fez parte de um sistema que regenera o ecossistema onde foi produzida, traz mais viabilidade para as famílias que produzem e para economia local, quanto mais gente se alimentando dela melhor. E nós já temos abordagens capazes de produzir carne assim.
Segundo, nossos sistemas de produção devem ser biorregionais de modo a lidar com as especificidades climáticas e ecológicas. Aproximadamente dois terços do planeta é composto por regiões de clima semiárido e nessas regiões a agricultura familiar não se viabiliza sem animais.
Terceiro, não precisamos de mais área para produzir carne, podemos usar a produção animal com um planejamento holístico de pastagens – que considera a ecologia, a economia e a qualidade de vida – para ciclar toda a matéria orgânica e regenerar as áreas já degradadas. Esses sistemas imitam os movimentos migratórios e conseguem aumentar muito o número de animais por área com a vantagem de diminuir enormemente o risco de queimadas.
Na questão do ativismo essa tendência de promover veganismo ou dietas à base de plantas ao invés da soberania alimentar, também não faz sentido. A soberania alimentar dá conta das complexidades, é plural, inclusiva e foi elaborada por uma diversidade enorme de pessoas que vivem a realidade rural nos vários biomas do planeta. A soberania alimentar garante o direito inalienável ao veganismo em suas várias vertentes de movimento, assim como uma dieta à base de planta ou qualquer outro tipo. Já a tendência de transformar o veganismo ou mesmo a redução do consumo da carne em uma direção para o movimento ambiental exclui indígenas, ribeirinhos, caatingueiros, quilombolas e as pessoas da agricultura familiar agroecológica que passam a se sentir atrasadas em relação a uma agenda criada nos centros urbanos por pessoas com um impacto ambiental imensamente mais danoso que o delas.
Um ativismo saudável e inclusivo focado em soluções deve apoiar a soberania alimentar, o êxodo urbano por uma reforma agrária bem planejada e concentrar sua energia em ensinar as pessoas a comprar TODOS os seus alimentos de quem produz agro-etno-ecologicamente em sua biorregião. Esse foco pode mitigar até 30% dos gases de efeito estufa que causam as mudanças climáticas no modelo INDUSTRIAL de sociedade enquanto promove a viabilidade econômica das pequenas produtoras e a qualidade de vida de quem vive no campo.
O que precisamos é de pensamento sistêmico, crítico e ecológico, de coragem, protagonismo coletivo e muita articulação em rede para descentralizarmos a tomada de decisão, a governança e o desenvolvimento de políticas públicas. Só em um viver biorregional onde a viabilidade econômica surge da pluralidade de ideias, da equanimidade entre as pessoas e da regeneração da saúde do solo, das pessoas e dos coletivos teremos um sistema alimentar digno, limpo e nutritivo para todas as pessoas.